O romantismo é um estilo de época. Apesar de ter surgido na Alemanha, o fato histórico que motivou o aparecimento desse movimento artístico foi a Revolução Francesa, um acontecimento importante para toda a Europa. Ele é caracterizado pelo subjetivismo, excesso sentimental, idealização e fuga da realidade.
Em Portugal, o romantismo levou à produção de obras famosas, como: Amor de perdição, de Camilo Castelo Branco, e As pupilas do Senhor Reitor, de Júlio Dinis. No Brasil, Lira dos vinte anos, de Álvares de Azevedo; Os escravos, de Castro Alves; e Iracema, de José de Alencar, são livros importantes do romantismo brasileiro.
Leia também: Goethe — um dos criadores do movimento alemão que foi responsável pelo surgimento do romantismo
Tópicos deste artigo
- 1 - Resumo sobre o romantismo
- 2 - Contexto histórico do romantismo
- 3 - Principais características do romantismo
- 4 - Romantismo x classicismo
- 5 - Romantismo em Portugal
- 6 - Autores do romantismo em Portugal
- 7 - Obras do romantismo em Portugal
- 8 - Romantismo no Brasil
- 9 - Autores do romantismo no Brasil
- 10 - Obras do romantismo no Brasil
- 11 - Mapa mental sobre romantismo
- 12 - Exercícios resolvidos sobre o romantismo
Resumo sobre o romantismo
-
O romantismo é um estilo de época que surgiu na Alemanha.
-
O marco histórico para o surgimento do romantismo é a Revolução Francesa.
-
É um estilo de época caracterizado pelo excesso sentimental.
-
Em Portugal, seus principais autores são Almeida Garrett, Camilo Castelo Branco e Júlio Dinis.
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
No Brasil, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e José de Alencar são importantes nomes do romantismo.
Contexto histórico do romantismo
O marco histórico do romantismo é a Revolução Francesa (1789-1799). A partir dela, a burguesia passou a ter grande poder político e a aristocracia entrou em decadência. Dessa forma, a estética romântica é também burguesa, pois reflete os ideais e costumes dessa classe social.
O lema dessa revolução era “Liberdade, igualdade, fraternidade”. E inspirou os artistas românticos, principalmente no que diz respeito à liberdade. Os artistas passaram a enaltecer a liberdade de pensamento, de comportamento e, inclusive, a liberdade de amar. Isso, no entanto, ia de encontro ao conservadorismo burguês.
Nos primeiros anos do século XIX, Napoleão Bonaparte (1769-1821) empreendeu grande esforço para expandir o império francês. Em países como a Alemanha, as invasões napoleônicas acabaram despertando o sentimento de nacionalidade, uma das principais características do romantismo em sua origem.
→ Videoaula sobre o contexto histórico do romantismo
Principais características do romantismo
O romantismo é um estilo de época marcado pela subjetividade. Assim, as obras românticas apresentam fortes emoções e sentimentalismo exagerado. Isso é feito por meio de adjetivação excessiva e uso intenso de exclamações. Seus autores valorizam a liberdade e expressam sentimento nacionalista.
É recorrente na poesia e na prosa românticas a idealização da mulher e do amor, além da expressão do sofrimento amoroso. Estão presentes também elementos bucólicos e uma visão teocêntrica. Os valores burgueses como fé, coragem e amor são enaltecidos. Não há realismo, pois a fuga da realidade é uma forte característica romântica.
Romantismo x classicismo
O classicismo é um estilo de época ocorrido na Europa do século XVI. Já o romantismo teve seu auge no século XIX. Eles apresentam valores opostos, mas com algumas características em comum.
|
Características opostas |
|
|
Classicismo |
Romantismo |
|
Antimedievalismo Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
|
Valorização da Idade Média |
|
Antropocentrismo |
Teocentrismo |
|
Racionalismo |
Sentimentalismo |
|
Equilíbrio Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
|
Exagero |
|
Características em comum |
|
|
Classicismo |
Romantismo |
|
Amor idealizado |
|
|
Mulher idealizada Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
|
|
|
Bucolismo |
|
Romantismo em Portugal
O romantismo em Portugal teve três fases. A primeira fase do romantismo português (1825-1840) é marcada pelo nacionalismo. Já a segunda (1840-1860) apresenta caráter ultrarromântico, com muito sentimentalismo, melancolia e pessimismo. Por fim, a terceira fase (1860-1870) é pré-realista, já que traz temática social, crítica sociopolítica e menos idealização.
Autores do romantismo em Portugal
-
Almeida Garrett (1799-1854)
-
António Feliciano de Castilho (1800-1875)
-
Alexandre Herculano (1810-1877)
-
Camilo Castelo Branco (1825-1890)
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
Soares de Passos (1826-1860)
-
João de Deus (1830-1896)
-
Júlio Dinis (1839-1871)
-
Antero de Quental (1842-1891)
Obras do romantismo em Portugal
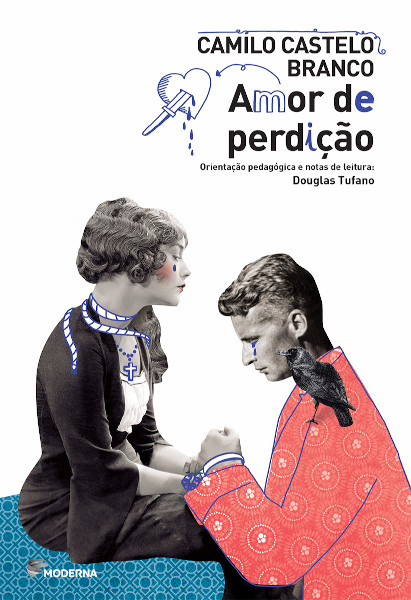
-
Camões (1825), poesias de Almeida Garrett
-
D. Branca (1826), poesias de Almeida Garrett
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
A noite do castelo e Os ciúmes do bardo (1836), poesias de António Feliciano de Castilho
-
A harpa do crente (1838), poesias de Alexandre Herculano
-
Um auto de Gil Vicente (1838), peça teatral de Almeida Garrett
-
A crente na liberdade (1838), peça teatral de Alexandre Herculano
-
O Alfageme de Santarém (1842), peça teatral de Almeida Garrett
-
Os infantes em Ceuta (1842), peça teatral de Alexandre Herculano
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
Frei Luís de Sousa (1843), peça teatral de Almeida Garrett
-
Eurico, o presbítero (1844), romance de Alexandre Herculano
-
Poesias (1856), de Soares de Passos
-
Um rei popular (1858), peça teatral de Júlio Dinis
-
Um segredo de família (1860), peça teatral de Júlio Dinis
-
O morgado de Fafe em Lisboa (1861), peça teatral de Camilo Castelo Branco
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
Amor de perdição (1862), romance de Camilo Castelo Branco
-
Coração, cabeça e estômago (1862), romance de Camilo Castelo Branco
-
Odes modernas (1865), de Antero de Quental
-
As pupilas do Senhor Reitor (1867), romance de Júlio Dinis
-
Flores do campo (1868), poesias de João de Deus
Romantismo no Brasil
A poesia romântica brasileira conta com três fases. A primeira geração (1836-1853) é indianista e nacionalista. Já a segunda (1853-1870) é ultrarromântica e marcada pelo pessimismo. Enfim, a terceira geração (1870-1881) é caracterizada pela crítica sociopolítica e por uma visão menos idealizada da realidade.
A prosa conta com o romance indianista, o romance urbano e o romance regionalista. O romance indianista possui caráter nacionalista e histórico. Já o romance urbano retrata o estilo de vida burguês na cidade do Rio de Janeiro. Além desses, o romance regionalista mostra personagens e costumes do interior do Brasil. Já o teatro é marcado pela crítica, ironia, além de elementos históricos.
Autores do romantismo no Brasil
-
Gonçalves de Magalhães (1811-1882)
-
Joaquim Manuel de Macedo (1820-1882)
-
Maria Firmina dos Reis (1822-1917)
-
Gonçalves Dias (1823-1864)
-
Bernardo Guimarães (1825-1884)
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
José de Alencar (1829-1877)
-
Manuel Antônio de Almeida (1830-1861)
-
Álvares de Azevedo (1831-1852)
-
Sousândrade (1833-1902)
-
Casimiro de Abreu (1839-1860)
-
Fagundes Varela (1841-1875)
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
Franklin Távora (1842-1888)
-
Visconde de Taunay (1843-1899)
-
Castro Alves (1847-1871)
Obras do romantismo no Brasil
-
Suspiros poéticos e saudades (1836), poesias de Gonçalves de Magalhães
-
A moreninha (1844), romance de Joaquim Manuel de Macedo
-
Últimos cantos (1851), poesias de Gonçalves Dias
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
Lira dos vinte anos (1853), poesias de Álvares de Azevedo
-
O noviço (1853), peça teatral de Martins Pena
-
Memórias de um sargento de milícias (1854), romance de Manuel Antônio de Almeida
-
Macário (1855), peça teatral de Álvares de Azevedo
-
O demônio familiar (1857), peça teatral de José de Alencar
-
Os timbiras (1857), poema épico de Gonçalves Dias
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
O guarani (1857), romance de José de Alencar
-
O guesa errante (1858), poema épico de Sousândrade
-
Úrsula (1859), romance de Maria Firmina dos Reis
-
As primaveras (1859), poesias de Casimiro de Abreu
-
As asas de um anjo (1860), peça teatral de José de Alencar
-
Lucíola (1862), romance de José de Alencar
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
Vozes da América (1864), poesias de Fagundes Varela
-
Cantos e fantasias (1865), poesias de Fagundes Varela
-
Iracema (1865), romance de José de Alencar
-
Gonzaga ou A revolução de Minas (1867), peça teatral de Castro Alves
-
A luneta mágica (1869), romance de Joaquim Manuel de Macedo
-
Espumas flutuantes (1870), poesias de Castro Alves
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;) -
Inocência (1872), romance de Visconde de Taunay
-
Ubirajara (1874), romance de José de Alencar
-
Senhora (1875), romance de José de Alencar
-
A escrava Isaura (1875), romance de Bernardo Guimarães
-
O Cabeleira (1876), romance de Franklin Távora
-
Os escravos (1883), poesias de Castro Alves
Não pare agora... Tem mais depois da publicidade ;)
Veja também: Lord Byron — um dos escritores mais importantes do romantismo europeu
Mapa mental sobre romantismo

Baixe o mapa mental sobre romantismo em PDF.
Exercícios resolvidos sobre o romantismo
Questão 1
(Enem) No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época: o romantismo.
Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos; era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça, e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas; mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação.
ASSIS, Machado de. Memórias póstumas de Brás Cubas. Rio de Janeiro: Jackson, 1957.
A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa:
A) ...o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas...
B) ...era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça...
C) Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço, precário e eterno,...
D) Naquele tempo contava apenas uns quinze ou dezesseis anos...
E) ...o indivíduo passa a outro indivíduo, para os fins secretos da criação.
Resolução:
Alternativa A.
Ao dizer que “o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas”, o narrador está criticando a idealização romântica.
[publicidae_omnia]
Questão 2
(Enem) O trecho a seguir é parte do poema “Mocidade e morte”, do poeta romântico Castro Alves:
Oh! eu quero viver, beber perfumes
Na flor silvestre, que embalsama os ares;
Ver minh’alma adejar pelo infinito,
Qual branca vela n’amplidão dos mares.
No seio da mulher há tanto aroma...
Nos seus beijos de fogo há tanta vida...
–– Árabe errante, vou dormir à tarde
À sombra fresca da palmeira erguida.
Mas uma voz responde-me sombria:
Terás o sono sob a lájea fria.
ALVES, Castro. Os melhores poemas de Castro Alves. Seleção de Lêdo Ivo. São Paulo: Global, 1983.
Esse poema, como o próprio título sugere, aborda o inconformismo do poeta com a antevisão da morte prematura, ainda na juventude. A imagem da morte aparece na palavra
A) embalsama.
B) infinito.
C) amplidão.
D) dormir.
E) sono.
Resolução:
Alternativa E.
Ao dizer “Terás o sono sob a lájea fria”, o eu lírico usa “sono” como eufemismo para morte, já que “lájea fria” faz referência ao túmulo.
Questão 3
(Enem)
Texto I
Se eu tenho de morrer na flor dos anos,
Meu Deus! não seja já;
Eu quero ouvir na laranjeira, à tarde,
Cantar o sabiá!
Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro
Respirando esse ar;
Faz que eu viva, Senhor! dá-me de novo
Os gozos do meu lar!
Dá-me os sítios gentis onde eu brincava
Lá na quadra infantil;
Dá que eu veja uma vez o céu da pátria,
O céu de meu Brasil!
Se eu tenho de morrer na flor dos anos,
Meu Deus! não seja já!
Eu quero ouvir cantar na laranjeira, à tarde,
Cantar o sabiá!
ABREU, C. Poetas românticos brasileiros. São Paulo: Scipione, 1993.
Texto II
A ideologia romântica, argamassada ao longo do século XVIII e primeira metade do século XIX, introduziu-se em 1836. Durante quatro decênios, imperaram o “eu”, a anarquia, o liberalismo, o sentimentalismo, o nacionalismo, através da poesia, do romance, do teatro e do jornalismo (que fazia sua aparição nessa época).
MOISÉS, M. A literatura brasileira através dos textos. São Paulo: Cultrix, 1971 (fragmento).
De acordo com as considerações de Massaud Moisés no Texto II, o Texto I centra-se
A) no imperativo do “eu”, reforçando a ideia de que estar longe do Brasil é uma forma de estar bem, já que o país sufoca o eu lírico.
B) no nacionalismo, reforçado pela distância da pátria e pelo saudosismo em relação à paisagem agradável onde o eu lírico vivera a infância.
C) na liberdade formal, que se manifesta na opção por versos sem métrica rigorosa e temática voltada para o nacionalismo.
D) no fazer anárquico, entendida a poesia como negação do passado e da vida, seja pelas opções formais, seja pelos temas.
E) no sentimentalismo, por meio do qual se reforça a alegria presente em oposição à infância, marcada pela tristeza.
Resolução:
Alternativa B.
No poema, é perceptível o distanciamento do eu lírico de seu “lar”, ou seja, de seu país, no qual ele quer “ouvir na laranjeira, à tarde,/ Cantar o sabiá!”. Sobre o lugar onde ele está no momento, o eu lírico diz: “Meu Deus, eu sinto e bem vês que eu morro/ Respirando esse ar”. Assim, ele quer “de novo/ Os gozos do meu lar!”. Sobre sua terra natal, ele diz que há: “sítios gentis onde eu brincava/ Lá na quadra infantil”. Desse modo, fica evidenciado que ele tem saudade de sua pátria, onde viveu a infância, saudade do “céu da pátria,/ O céu de meu Brasil!”. A idealização de seu país natal é um elemento nacionalista.
Crédito de imagem
[1] Editora Moderna (reprodução)
Fontes
ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Literatura brasileira: tempos, leitores e leituras. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2015.
COSSON, Rildo; SCHWANTES, Cíntia. Romance histórico: as ficções da história. Itinerários, Araraquara, n. 23, p. 29-37, 2005. Disponível em: https://periodicos.fclar.unesp.br/itinerarios/article/view/2804.
GUERREIRO, Emanuel. O nascimento do Romantismo em Portugal. Diadorim, Rio de Janeiro, v. 1, n. 17, p. 66-82, 2015. Disponível em: https://revistas.ufrj.br/index.php/diadorim/article/view/4036.
MARQUES, Wilton Jose. Alexandre Herculano e A voz do profeta. Navegações, Porto Alegre, v. 5, n. 1, p. 40-47, 2012. Disponível em: https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/navegacoes/article/view/11065.
PEDROSA, Ana Bárbara. Almeida Garrett e a proposta política do Romantismo. Diacrítica, Braga, v. 29, n. 3, 2015. Disponível em: https://cehum.elach.uminho.pt/cehum/static/publications/diacritica_29-3.pdf.
Por Warley Souza
Professor de Literatura



